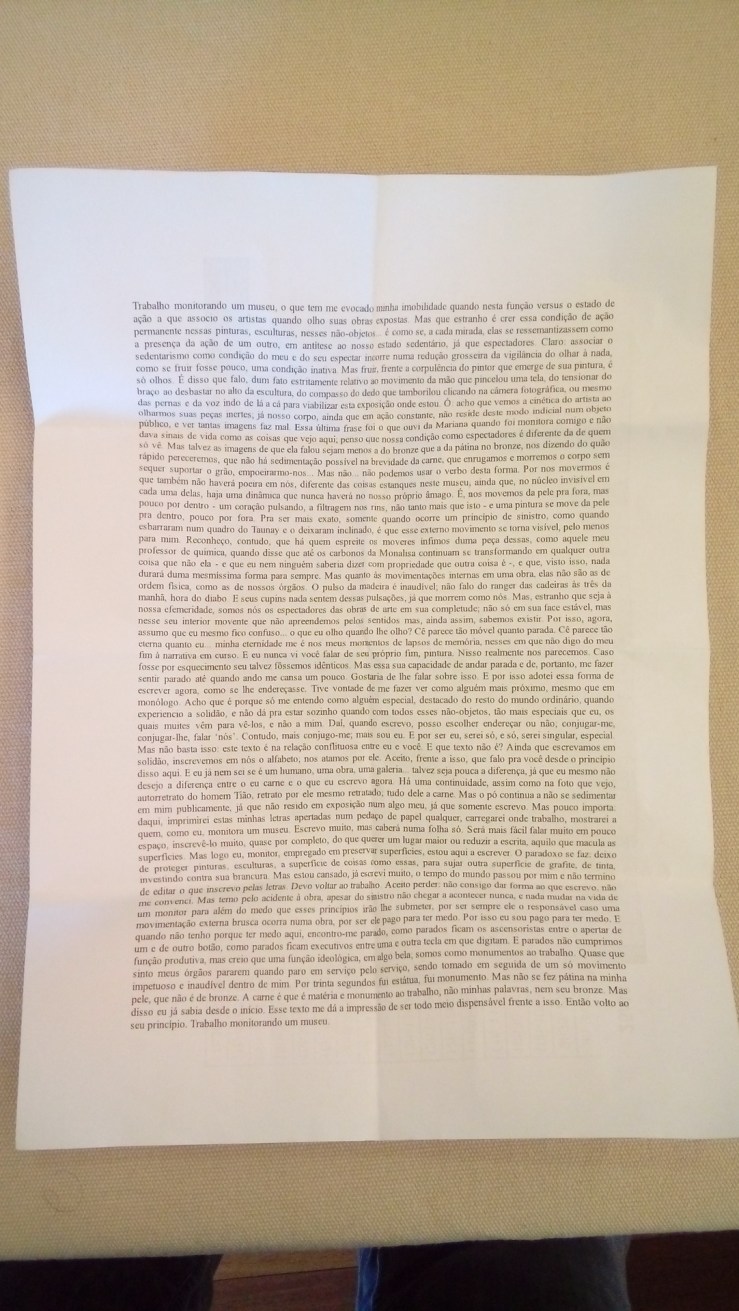
Trabalho monitorando um museu, o que tem me evocado minha imobilidade quando nesta função versus o estado de ação a que associo os artistas quando olho suas obras expostas. Mas que estranho é crer essa condição de ação permanente nessas pinturas, esculturas, nesses não-objetos… é como se, a cada mirada, elas se ressemantizassem como a presença da ação de um outro, em antítese ao nosso estado sedentário, já que espectadores. Claro: associar o sedentarismo como condição do meu e do seu espectar incorre numa redução grosseira da vigilância do olhar à nada, como se fruir fosse pouco, uma condição inativa. Mas fruir, frente a corpulência do pintor que emerge de sua pintura, é só olhos. É disso que falo, dum fato estritamente relativo ao movimento da mão que pincelou uma tela, do tensionar do braço ao desbastar no alto da escultura, do compasso do dedo que tamborilou clicando na câmera fotográfica, ou mesmo das pernas e da voz indo de lá a cá para viabilizar esta exposição onde estou. Ó: acho que vemos a cinética do artista ao olharmos suas peças inertes; já nosso corpo, ainda que em ação constante, não reside deste modo indicial num objeto público, e ver tantas imagens faz mal. Essa última frase foi o que ouvi da Mariana quando foi monitora comigo e não dava sinais de vida como as coisas que vejo aqui; penso que nossa condição como espectadores é diferente da de quem só vê. Mas talvez as imagens de que ela falou sejam menos a do bronze que a da pátina no bronze, nos dizendo do quão rápido pereceremos, que não há sedimentação possível na brevidade da carne, que enrugamos e morremos o corpo sem sequer suportar o grão, empoeirarmo-nos… Mas não… não podemos usar o verbo desta forma. Por nos movermos é que também não haverá poeira em nós, diferente das coisas estanques neste museu, ainda que, no núcleo invisível em cada uma delas, haja uma dinâmica que nunca haverá no nosso próprio âmago. É, nos movemos da pele pra fora, mas pouco por dentro – um coração pulsando, a filtragem nos rins, não tanto mais que isto – e uma pintura se move da pele pra dentro, pouco por fora. Pra ser mais exato, somente quando ocorre um princípio de sinistro, como quando esbarraram num quadro do Taunay e o deixaram inclinado, é que esse externo movimento se torna visível, pelo menos para mim. Reconheço, contudo, que há quem espreite os moveres ínfimos duma peça dessas, como aquele meu professor de química, quando disse que até os carbonos da Monalisa continuam se transformando em qualquer outra coisa que não ela – e que eu nem ninguém saberia dizer com propriedade que outra coisa é -, e que, visto isso, nada durará duma mesmíssima forma para sempre. Mas quanto às movimentações internas em uma obra, elas não são as de ordem física, como as de nossos órgãos. O pulso da madeira é inaudível; não falo do ranger das cadeiras às três da manhã, hora do diabo. E seus cupins nada sentem dessas pulsações, já que morrem como nós. Mas, estranho que seja à nossa efemeridade, somos nós os espectadores das obras de arte em sua completude; não só em sua face estável, mas nesse seu interior movente que não apreendemos pelos sentidos mas, ainda assim, sabemos existir. Por isso, agora, assumo que eu mesmo fico confuso… o que eu olho quando lhe olho? Cê parece tão móvel quanto parada. Cê parece tão eterna quanto eu… minha eternidade me é nos meus momentos de lapsos de memória, nesses em que não digo do meu fim à narrativa em curso. E eu nunca vi você falar de seu próprio fim, pintura. Nisso realmente nos parecemos. Caso fosse por esquecimento seu talvez fôssemos idênticos. Mas essa sua capacidade de andar parada e de, portanto, me fazer sentir parado até quando ando me cansa um pouco. Gostaria de lhe falar sobre isso. E por isso adotei essa forma de escrever agora, como se lhe endereçasse. Tive vontade de me fazer ver como alguém mais próximo, mesmo que em monólogo. Acho que é porque só me entendo como alguém especial, destacado do resto do mundo ordinário, quando experiencio a solidão, e não dá pra estar sozinho quando com todos esses não-objetos, tão mais especiais que eu, os quais muites vêm para vê-los, e não a mim. Daí, quando escrevo, posso escolher endereçar ou não; conjugar-me, conjugar-lhe, falar ‘nós’. Contudo, mais conjugo-me; mais sou eu. E por ser eu, serei só, e só, serei singular, especial. Mas não basta isso: este texto é na relação conflituosa entre eu e você. E que texto não é? Ainda que escrevamos em solidão, inscrevemos em nós o alfabeto; nos atamos por ele. Aceito, frente a isso, que falo pra você desde o princípio disso aqui. E eu já nem sei se é um humano, uma obra, uma galeria… talvez seja pouca a diferença, já que eu mesmo não desejo a diferença entre o eu carne e o que eu escrevo agora. Há uma continuidade, assim como na foto que vejo, autorretrato do homem Tião, retrato por ele mesmo retratado; tudo dele a carne. Mas o pó continua a não se sedimentar em mim publicamente, já que não resido em exposição num algo meu, já que somente escrevo. Mas pouco importa: daqui, imprimirei estas minhas letras apertadas num pedaço de papel qualquer, carregarei onde trabalho, mostrarei a quem, como eu, monitora um museu. Escrevo muito, mas caberá numa folha só. Será mais fácil falar muito em pouco espaço, inscrevê-lo muito, quase por completo, do que querer um lugar maior ou reduzir a escrita, aquilo que macula as superfícies. Mas logo eu, monitor, empregado em preservar superfícies, estou aqui a escrever. O paradoxo se faz: deixo de proteger pinturas, esculturas, a superfície de coisas como essas, para sujar outra superfície de grafite, de tinta, investindo contra sua brancura. Mas estou cansado, já escrevi muito, o tempo do mundo passou por mim e não termino de editar o que inscrevo pelas letras. Devo voltar ao trabalho. Aceito perder: não consigo dar forma ao que escrevo, não me convenci. Mas temo pelo acidente à obra, apesar do sinistro não chegar a acontecer nunca, e nada mudar na vida de um monitor para além do medo que esses princípios irão lhe submeter, por ser sempre ele o responsável caso uma movimentação externa brusca ocorra numa obra, por ser ele pago para ter medo. Por isso eu sou pago para ter medo. E quando não tenho porque ter medo aqui, encontro-me parado, como parados ficam os ascensoristas entre o apertar de um e de outro botão, como parados ficam executivos entre uma e outra tecla em que digitam. E parados não cumprimos função produtiva, mas creio que uma função ideológica, em algo bela; somos como monumentos ao trabalho. Quase que sinto meus órgãos pararem quando paro em serviço pelo serviço, sendo tomado em seguida de um só movimento impetuoso e inaudível dentro de mim. Por trinta segundos fui estátua, fui monumento. Mas não se fez pátina na minha pele, que não é de bronze. A carne é que é matéria e monumento ao trabalho, não minhas palavras, nem seu bronze. Mas disso eu já sabia desde o início. Esse texto me dá a impressão de ser todo meio dispensável frente a isso. Então volto ao seu princípio. Trabalho monitorando um museu.