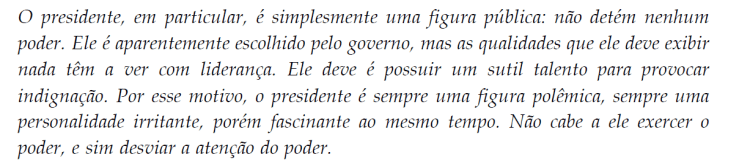(retirei da revista Dazibao, n. 3)
A declaração e o relato aqui apresentados são resultado da auto-organização política das trabalhadoras e trabalhadores do setor educativo da 9ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul. A declaração foi distribuída como um panfleto junto à intervenção dos mediadores na mostra. Os dois documentos foram publicados originalmente no blog do grupo <https://coletivoam.wordpress.com>
Quando falhas operacionais são desigualdades estruturais – por quê o Coletivo Autônomo de Mediadores realizou uma paralisação na 9ª Bienal do Mercosul/Porto Alegre
Relato de uma mediadora
A greve é um momento de verdade, cada um tem de escolher seu campo.
No dia 10 de novembro de 2013, o Coletivo Autônomo de Mediadores paralisou seus trabalhos na 9ª Bienal do Mercosul / Porto Alegre. Era o último dia da mostra.
Por que uma paralisação? Primeiro, pela urgência de revelar ao público visitante as práticas de caráter discriminatório e segregatório de instituições como a Fundação Bienal, efetuadas ao longo da 9ª Bienal. Segundo, esclarecer que, como mediadore(a)s, ao mesmo tempo cidadã(o)s e trabalhadore(a)s na mostra, repudiamos tais práticas.
Somos trabalhadores e trabalhadoras de algo imaterial. Não produzimos carros ou pregos; produzimos conhecimento, descoberta, aprendizado: diálogo. Um diálogo baseado na construção da igualdade apesar e para além das desigualdades que estruturam nossa sociedade. Logo, neste dia, nossa mediação era menos em relação às obras expostas, e mais um diálogo – na forma de um constante questionamento – sobre o desigual acesso à “arte” e à “cultura”.
Nossas atividades iniciaram em torno das 9h no exterior da Usina do Gasômetro e terminaram às 21h no interior do prédio. Pela primeira vez, fizemos o mesmo horário de trabalho do(a)s seguranças que, desde antes da abertura da 9ª Bienal chegavam antes das 9h da manhã para sair às 9h da noite.
Enquanto algun(a)s colegas se dedicavam à confecção dos cartazes, outro(a)s realizavam a distribuição dos panfletos e da declaração (publicada no blog). Ainda pela manhã, uma das artistas da mostra cruzou por nós e, num sorriso que expressava apoio ao nosso ato, retirou da bolsa seu crachá, no qual constava a versão em espanhol de uma frase proferida por mediadores e mediadoras: sin mediador no hay bienal. Então, convidou-nos para participar de sua performance que iria ocorrer ao ar livre, na orla do rio Guaíba.
Permanecemos na rua enquanto o tempo permitiu. Ora iniciávamos o diálogo com alguém que passava, ora éramos interpelado(a)s por quem circulava. Logo nos aproximamos da entrada do prédio e, ao lado da funcionária que distribuía o folder institucional da mostra Bienal, distribuímos os panfletos do coletivo autônomo.
Estávamos distribuindo os panfletos próximos à porta de entrada quando irrompeu a primeira tensão do dia: um rapaz que havia solicitado alguma informação à guarda municipal – é comum estarem, sempre, dois ou três guardas na Usina – fora recebido com agressividade pelo policial e passou, também, a mostrar certa hostilidade em sua fala. Próxima a eles, eu observava. O(a)s demais colegas já haviam se afastado e me sugeriram fazer o mesmo, já que poderia “acabar sobrando pra nós”. Resisti em me distanciar e fingir que não era comigo, embora compreendesse que qualquer situação atípica, nesse dia atípico, poderia ser lida como gerada pelo(a)s mediadore(a)s e, assim, nosso(a)s chefes poderiam nos culpabilizar. De certa forma, era como se precisássemos nos proteger de qualquer “confusão” para não sobrar pra nós. Bem, o argumento fazia sentido. Ziguezagueei um pouco até finalmente me afastar.
Porém, não imaginávamos que, pouco tempo depois, se instauraria outra violência, esta sim, dirigida a nós, mediadore(a)s. A possibilidade de deslegitimação do ato era cogitada, mas creio que nenhum de nós cogitou a possibilidade da violência. Talvez devêssemos ter aceitado, desde o início, que qualquer coisa poderia ter se tornado um motivo para “sobrar pra nós”, simplesmente porque quem faz paralisação, manifestação ou greve – para utilizar um termo mais comum entre as classes trabalhadoras – é sempre culpabilizado; seja por obstruir o trânsito, seja por obstruir, justamente, o trabalho.
A chuva fez com que entrássemos no espaço expositivo. Embora nosso desejo fosse realizar o ato na rua para demarcar nossa ausência no espaço de trabalho, tivemos de deslocar nosso ato para o interior do prédio: na entrada, ao lado de uma obra que se propunha uma relação entre fora/dentro, na forma de uma praça.
Eu conversava com um visitante quando um homem, exaltado, adentrou o prédio e começou a hostilizar todo(a)s que ali estavam, mediadores, seguranças e público. A certa distância, eu ainda não compreendia muito bem o que acontecia. Nem eu, nem o visitante. Aos poucos foi se tornando clara a atitude violenta desse funcionário, de outro setor, que se dizia representante da curadora da exposição e da coordenadora do projeto pedagógico (setor referente à equipe de mediação).
Ele então tentou tirar os cartazes expostos no chão. Numa agressividade assustadora, xingou-nos e lançou ameaças de morte a um colega. Afirmou que nós estaríamos desde o início “desorganizando a bienal”. A expressão violenta, em sua face e em seu corpo, fez com que chegássemos a supor que ele seria, ou estaria, uma pessoa “alterada”. No entanto, antes de patologizar a atitude, de considerá-la um caso isolado ou uma “falha operacional”, precisamos reconhecer que embora ela pareça destoante num primeiro momento, ela é, na verdade, representativa da violência simbólica que vinha sendo exercida de forma individualizada, nos corredores e nas conversas particulares ao longo da 9ª Bienal.
O visitante com quem eu conversava chegou a tentar dialogar com o referido funcionário, mas ele era incapaz de tecer um diálogo. Se exaltava, levantava o tom de voz, apontava em nossa direção. Os seguranças chegaram a intervir, também tentaram conversar e acalmá-lo. Em certo momento, ele saiu do prédio, mas logo retornou. Fez idas e vindas hostis até que chegassem a curadora e a coordenadora do projeto pedagógico – aquelas que ele dizia estar representando – para uma conversa conosco, o(a)s mediadore(a)s.
Ora, tal atitude foi tanto a expressão real dos constrangimentos morais que mediadores e mediadoras vinham sofrendo de maneira individualizada, quanto a efetivação da discriminação praticada por classes privilegiadas. Assim como a paralisação catalisou uma série de processos que ocorriam ao longo da mostra, a atitude violenta desse funcionário pode também ser lida como representativa da forma como a instituição nos trata – mediadore(a)s, seguranças e público. Atitude, essa, corroborada pela “conversa” que se deu com a curadora e a coordenadora, mais uma vez omissas em relação às violências praticadas.
Quando elas chegaram, nos reunimos em círculo ao redor de nossa intervenção (artístico-política). O ponto de partida para o “diálogo” foi a pergunta “o que está acontecendo aqui?”. Sobre a violência, nenhuma palavra; exceto o pedido de que nós, mediadores e mediadoras, nos colocássemos no lugar daquele funcionário que se sentia atingido por tamanha intervenção nas obras, visto que ele havia trabalhado intensamente ao lado do(a)s artistas.
Fomos acusado(a)s de contradição, de praticar aquilo que criticamos em nossa declaração pois o ato no interior do espaço expositivo estaria impedindo, ao público, o acesso às obras, apesar do público ter mostrado apoio ao nosso ato. De acordo com a coordenadora do projeto pedagógico, a maioria dos tópicos de nossa declaração referia-se a “falhas operacionais” e, partindo disso, fomos insistentemente interrogado(a)s sobre onde queríamos chegar com nossas declarações e reivindicações.
Como assim falhas operacionais? Um jantar realizado pela e para uma elite que tem o privilégio de burlar as regras de cuidado e manutenção de um patrimônio público é uma falha operacional? As perseguições e constrangimentos morais praticados pela direção do MARGS a(o)s mediadora(e)s é uma falha operacional? As sessões fotográficas realizadas nos espaços expositivos onde toca-se em obras que não se permitia tocar é uma falha operacional? Um evento divulgado para o público em que, repentinamente, entram apenas aquele(a)s que constavam numa espécie de lista VIP é uma falha operacional? O desvio de função pelo qual passaram mediadores e mediadoras é só uma falha operacional? Não estaríamos diante da exacerbação de uma desigualdade estrutural na qual se reproduz o privilégio de certas classes sociais e se desvaloriza outras (públicos visitantes, mediadora(e)s e demais trabalhadore(a)s)?
O visitante com quem eu havia conversado participou da “reunião”. Manifestou-se perguntando à curadora e à coordenadora o que elas viam de tão errado em nosso ato político porque, para ele, tratava-se de um ato que questionava as estruturas de poder vigentes em nossa sociedade. Elas não responderam sua questão e, embora tenham dito que não era errado, frisaram que, como mediadore(a)s contratados pela Fundação Bienal, nós tínhamos feito um acordo de que trabalharíamos até o último dia da mostra e, através de uma paralisação, não estávamos cumprindo com esse acordo. A curadora disse que não queríamos trabalhar. Pediu nossas bolsas e crachás para que então colocassem outras pessoas em nossos lugares – essas pessoas usariam os crachás com os nossos nomes? Por que o crachá?
O funcionário violento rondava por ali. Ao ouvir um colega que tentava realizar a mediação do ato com visitantes, gritou “olha aqui, ele tá com discurso político”. Qual o problema de falar em política? A arte é um campo sagrado no qual a política não adentra?
A “conversa” prosseguiu, apesar da intervenção. Como mencionei, uma das obras ao lado da qual estávamos era como uma praça, propondo uma relação entre fora/dentro, interior/exterior, bem como espaço público/espaço privado. E o que acontece nas praças? Diversas apropriações. Assim, nosso ato, mesmo que no interior de um espaço expositivo, era uma maneira criativa de realizar a ideia da obra e foi o que argumentamos com a curadora. Além disso, não estávamos sobre a obra, mas na fronteira entre uma e outra obra.
Diante de nosso argumento, a curadora afirmou que tal relação se tratava apenas de uma metáfora e, em tom pejorativo, afirmou que nosso ato não era muito sofisticado, apesar de termos aprendido a sofisticação ao longo do curso de formação. Há, nessa fala, pelo menos dois ataques: primeiro, que não entendemos que se tratava apenas de uma metáfora; segundo, afirmar que nosso ato não era sofisticado apesar de nos terem ensinado sofisticação no curso. Dois ataques à nossa capacidade cognitiva, portanto, dois ataques ao nosso pensamento. E o que é a paralisação? Um ato concebido desde o pensamento.
Eis a violência simbólica, eis a violência sobre nossa forma de pensar.
Ora, não poderíamos problematizar que a potência da metáfora não está justamente na sua possibilidade de realização? E a potência da mediação na realização/efetivação de metáforas? A mediação como partilha de saberes/aprendizados que se dá entre um eu e umx Outrx com a finalidade de nos transformar; se entendermos a metáfora no sentido da transposição (ou seja, do deslocamento), não é justamente isso que realizamos na mediação ou como mediação? O diálogo não acaba por transpor o eu e x outrx a outros lugres, outros eus?
Quanto a ser ou não sofisticado, a definição que consta no dicionário me parece reveladora do elitismo violento impregnado no pensamento da curadora. Segundo o Houaiss:
– sofisticado (datação séc. XVI): que se sofisticou;
1. enganado com sofismas 2. que foi alterado fraudulentamente; falsificado, adulterado 3. que tem sutileza ou utilidade sofística 4. que não é natural; postiço, artificial, afetado 5. falsamente intelectual ou rebuscado 6. que tem requinte, originalidade, bom gosto; fino, requintado 7. que demonstra conhecimentos profundos e atualizados sobre (alguma coisa); profundo, complexo, erudito 8. que é muito avançado, complexo, bem aparelhado, eficiente; aprimorado. [etimologia: verbo sofisticar, do francês sophistiquer que significa “enganar com sofismas”]
Sofisma é um argumento que produz a ilusão da verdade. Em termos informais, podemos dizer que é um sinônimo de mentira. Se levarmos em consideração as primeiras cinco definições, fica evidente por que não somos sofisticado(a)s. Nosso ato não teve a intenção de enganar mas de revelar, em sua forma crua, as desigualdades que nos atravessam e estruturam tanto o campo da arte quanto os demais campos do social. Não se trata de falsificar ou ser artificial. A paralisação – ou greve – é a ação através da qual as classes trabalhadoras buscam explicitar a desvalorização, a desigualdade e a violência sofridas no ambiente de trabalho. Ou seja, mostrar a verdade sobre a exploração do trabalho. E é nesse sentido que penso nossa paralisação: uma forma autêntica de revelar verdades, não uma forma sofisticada de construir erudição sobre qualquer assunto. Supor que nosso ato não é eficiente, visto que curadora e coordenadora reiteraram que nossas reivindicações não estavam chegando onde deveriam chegar, é só uma maneira de deslegitimá-lo.
As estruturas de poder às quais se referiu aquele visitante não são seres abstratos que pairam num céu enevoado, distante e acima de nós. Elas se produzem e reproduzem no nosso dia a dia, nas nossas práticas, nos nossos corpos: quando a instituição se cala diante do desrespeito e da violência ou, na figura de sua presidente, afirma que “aqueles que criticam o jantar não estavam lá e portanto não podem avaliar o risco às obras e ao patrimônio”. Essas estruturas são, na verdade, relações de poder e foi na forma de uma relação onde se perpetua poder que curadora e coordenadora do pedagógico instauraram essa “conversa” conosco. Um poder, obviamente, eficaz: para evitar a entrega de nossos crachás, ficou acordado que parte da equipe voltaria a trabalhar, mas o ato seguiria na entrada do prédio, apesar do pedido de que o retirássemos dali. Após o término da “conversa”, curadora, coordenadora e o violento funcionário se retiraram. Nós continuamos num intenso diálogo com os públicos visitantes sobre arte, política, cultura, desigualdade. Ao fim do dia, colegas de outros espaços expositivos vieram se somar, e uma chuva torrencial fez muito mais pessoas, que passeavam no entorno, entrarem na Usina do Gasômetro. Nossos diálogos se multiplicaram. Acho que pela primeira vez a chuva foi sinônimo de um clima favorável.